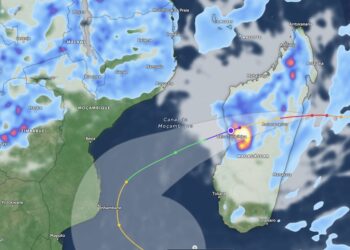Na terça-feira da semana passada, fui à machamba da minha avó Helena. Gosto de conversar com ela, principalmente quando me sinto um homem insociável e sem rumo. Todavia, naquele dia, de sol fervente, não ia chorar no seu colo ou lamentar o facto de ser um mau rapaz que apoquenta os outros com os seus “muzungos”, espíritos maus. Fui ter com ela a fim de lhe fazer uma surpresa: oferecer à minha avó, num gesto de agradecimento, dentre outras coisas, algumas capulanas e três pacotes de sementes de soja. Sei, que em troca, ganharia alguns molhos de “makhofo”, couve, para o jantar. Eu gosto de “makhofo” com camarão, amendoim e muito coco. “Makhofo” anima muito, mas muito mesmo, no dia seguinte. Enfim, há gostos e gostos.
Quando cheguei à machamba da minha avó, por volta das duas da tarde, ela estava sentada numa zona sombreada por uma mangueira. Surpreendida com a minha presença, levantou-se e recebeu o plástico que eu trazia na mão esquerda. Em “Xitxope”, Cicopi para os puritanos da língua, ela mesurou-me: “nhasse kunana ndzuma”, ou, simplesmente, hoje vai chover. E no meu “Xitxope” adulterado, respondi: “hi natihona”, o que significa veremos. Sentámo-nos e cortejámo-nos naquele modo longo que nós, os “matxopes”, inventámos para animar a tradição da saudação. Falámos de tudo um pouco enquanto eu saboreava o amendoim fresco que ia tirando do solo que um dia nos receberá.
Peguei no saco plástico e ofereci-o à vovó Helena que, depois de o receber, abriu-o e viu as coisas que estavam no interior. Ela animou-se e sorriu. Contudo, o ânimo acabou quando ela viu os três pacotes de sementes de soja. Olhou para os pacotes, rasgou um deles e pôs algumas sementes na mão. Apalpou-as e, logo em seguida, introduziu-as no receptáculo. Minutos depois fitou-me nos olhos e disse muitas metáforas que resumo no seguinte: “Meu neto, essas sementes são da morte”. Exclamei e ri, um bocado. Procurei saber dela a razão daquela reacção. Vovó Helena, convicta, disse: “Essas sementes podem ser plantadas muito bem e colhermos em abundância, mas os seus lucros – sobejos – não podemos semear de novo porque não germinam como germina o milho, o feijão e o amendoim da nossa terra”.
Eu, entontecido, tentei explicar que aquelas sementes eram boas e que a soja sairia bem bonita e grande. Para fazer-me calar definitivamente, ela disse: “Meu neto, você estudou muito. Subiu “ganone”, avião, e sabe que de nada vale termos um fruto bonito e grande se o mesmo não se reproduz”. Foi quando descobri que eu era um analfabeto: aquelas sementes eram geneticamente transformadas. Realmente iria semear e colher, mas esse ritual nunca mais se repetiria. Realmente, nem tudo o que brilha é ouro.
Sei que o argumento de que não li o rótulo, antes de comprar o produto, não suavizaria o meu erro. Por isso, não disse isso à minha avó para não “entrar noutros louvores”. Meu Deus, que vergonha: fui contra a vovó Helena e os princípios básicos da agricultura. Comprei estrumeira, no lugar de sementes. Comprei transgénicos que matam o solo e queimam a ideia do ciclo na agricultura.
O que era surpresa tornou-se pesadelo. Antes de me despedir tentei justificar: reflexionei em dizer à minha avó que os transgénicos foram forjados a pensar nas vantagens ecológicas, agronómicas e económicas para a produção agrícola. Cogitei em dizer que se introduz a bactéria “agrobacterium tumefaciens” na mutação dos genes da semente para determinar o rearranjo.
Ou que se bombardeia o embrião com essa bactéria para determinar a supressão do gene da mesma para que se tenha uma semente geneticamente transformada. Reflexionei, ainda, em dizer que as plantas geneticamente modificadas servem para aumentar a produtividade, o controlo de ervas adventícias, também chamadas invasoras, e, consequentemente, reduzem os custos da produção de pesticidas, pois introduzem-se, no genoma da planta, genes que lhe atribuem a função de destruição de insectos-pragas e de resistência aos herbicidas sistémicos. Pensei em falar de Darwin, aquele pequeno deus da Biologia, que profetizou a evolução das espécies.
Mas isso tudo acabou no pensamento, pois a minha avó, mesmo que compreendesse a minha explicação científica, não aceitaria aquelas sementes. Despedi-me e ela, antes, proferiu a seguinte frase: “Ku gonda ngutu inga kudziva ngutu”, o mesmo que estudar muito não significa saber em demasia. Naquele instante, percebi que existem momentos em que a nossa ciência não funciona, porque existem pessoas com um tipo de sabedoria que não se encontra nas universidades. Directamente, me revi naquela sentença da vovó Helena, embora nunca a entendesse sempre que a mãe Clara a pronunciasse.
A caminho da paragem, um pouco ébrio por aquilo que acabava de viver, fui reflectindo sobre o meu pecado e pensei nas universidades que arquitectam agrónomos que não sabem de agricultura como a vovó Helena, pois muitos deles acabam como banqueiros ou em telefonias móveis. Descobri que muito do que comemos nas nossas casas é produzido por pessoas como a vovó Helena e não por estudiosos, académicos ou engenheiros agrónomos. Compreendi que muitos moçambicanos não têm a noção de como a comida chega às suas casas, para encher os seus pratos de fartura.
Com tristeza, senti que muitos agricultores do meu país – e quiçá da mãe África – são enganados com diversificadas sementes da morte que os tornam mais pobres como a enxada de cabo curto. Com lágrimas nos olhos indaguei-me: quantas sementes da morte – que travam o desenvolvimento do país – existem em Moçambique? Com um místico de tristeza profetizei, antes de entrar no “chapa-cem”, que um dia morrerei de fome, pois nenhuma lógica na senda da “biotechnology”, “biofutur” e “greenpeace” favorece a protecção do crescimento sadio da soja ou da minha “makhofo”. Mas, como sempre digo: “hi na tihona”, ou seja, veremos.
P.S.: Estimo que a UNAC (União Geral das Cooperativas) continue perseverante na sua luta. Bayete!